Cai Neve - Amarante
Fotografia de Anabela Matias de Magalhães
O texto que hoje transcrevo retrata uma vida amarantina que já não existe e foi escrito pelo jornalista Costa Carvalho, amarantino dos sete costados que, apesar de calcorrear quotidianamente as ruas do Porto... mantém sempre este velho burgo -que é dele - no coração.
Muito obrigada, Costa Carvalho! Sei que o meu pai vai delirar ler este belíssimo texto/testemunho de uma Amarante que ficou retida para sempre na vossa memória.
in memoriam EDUARDO TEIXEIRA PINTO, companheiro de escola e da vida
A JURA QUEBRADA
Só tu, porém, o saberás,
Até que a morte
Ao apagar-te a conta de teus anos,
Deixe imortal esse menino que
Jogou e ganhou aos dados
Da vida que perdeu.
JORGE DE SENA
Até que a morte
Ao apagar-te a conta de teus anos,
Deixe imortal esse menino que
Jogou e ganhou aos dados
Da vida que perdeu.
JORGE DE SENA
O vento andava muito lá por cima e as nuvens, para se aquecerem, encostavam-se umas às outras. O céu ficava, assim, da cor de pasta de alfaiate, mas não havia meio de chover. Só frio, muito frio, estalando seco nas carnes como chicote, ao escorrer de todos os montes com o pêlo eriçado que nem gato selvagem. O rexio era o pior de suportar. E até o Marão, besta rochosa desvirilizada pelo fogo que, ciclicamente, lhe rabiava pelo cerno , até o Marão, incapaz de se dar com o griso, botava nos ombros uma estola de arminho; o mesmíssimo arminho que ainda dava e sobrava para um regalo.
Primeiros a acordarem o dia, sem vergonha de se terem metido na cama com a noite, os meninos, passado o Largo de S. Pedro davam uma corrida, rua da cadeia acima, entrando no terreiro da escola fumegantes, coração desaustinado aos coices no peito. Com a respiração descompassada, sorvida como água em dia de muito calor, os meninos, descansando o queixo no gradeamento quase da altura deles, pareciam récuas com arreatas passadas às argolas, espinhaços aos estremeções e arrepelanços, porque as moscas do inverno, invisíveis mas com ferrão de aço frio, picavam ainda mais do que as varejeiras do estio na barbearia do sr. Luís Piné.
Sem caruma na cabeça, por causa do piolho branco, sem pêlo nem pano nas pernas, joelho a castanholar contra joelho, vergando pelas garulas como se estivessem a sofrer de fazer chichi, os meninos eram pinheiros sangrados pelo taró, lágrimas não choradas escorrendo com dor pelas gretas do cieiro. Então, se um conseguia dizer “o gajo ‘tá todo branco!”, os outros acordavam para o desejo de também verem o Marão coberto de neve.
E, no fundo do tacho que diziam ser a vila, a catraiada da escola sempre era o estrugido que dava o primeiro cheiro e sabor à comida sensaborona da pasmaceira diária. Os outros temperos estavam na serra e no rio, com a sua ponte de três arcos, água passando por baixo, menos naquela vez em que um fidalgo... Quem sabia da história era o Emídio Pisco! Falava numa moca de pregos e de não sei quem que se metera com a amiga do visconde. Tinha sido há muitos, muitos anos! Há um ror deles! - garantia o Emídio Pisco, jurando à ceguinho fosse ele em como tudo era verdade. “Qual galga, ó minha besta! Vale uma apostinha?” E contava mais: correu sangue como pipa aberta; tanto, que o Tâmega apanhara uma borracheira daquela coisa vermelha e, depois, atirou com tudo cá para fora. Parecia borras de vinho. E eram animais, troncos de árvores e até gente! as coisas que o rio tinha engolido em tamanha sangradura. A barriga do rio inchou muito e, de tão cheia, não conseguira passar por debaixo do arco maior; então, o Tâmega tivera de pular por cima da ponte.
Emídio Pisco levava a malta ao Arquinho e mostrava, nos muros e na paredes, os vomitados do rio. Com esta história do camandro, gahava a aposta a dois botões e o direito e chupar duas vezes uma das priscas baris, meio esfareladas e muito acastanhadas, que o Ricardo Branco guardava e defendia à chancada nos bolsos dos calções.
Na vila, só os meninos viviam; o resto existia mumificado. Aos 60 anos, quantos com a mesma cara, a mesma cor de cabelo de quando tinham 30? Eram muitos a ficar assim! Diziam às crianças que, uns, era por causa do frio; outros, porque se conservavam em aguardente como as cerejas. Os meninos ouviam e não comentavam. Para eles, a explicação estava no Largo de S. Gonçalo: também os reis da varanda do convento não mudavam. Todos, certamente os reis e a gente crescida , eram feitos de pedra. Até o Lila-Pé-Oco, os Pastas, o Miki, a Nicó, o Ciranda mais o seu busto da República, o António Padreco e o facão com que atemorizava a ganapada, fazendo-a correr e gritar, à volta do edifício da escola. Não fosse aquele buraco... Tudo e todos loucuras petrificadas, sombras de corpos enterrados nos sarcófagos dos próprios esqueletos, carnes álgidas, almas gélidas, nostálgicas, saudosas do nada. À Varanda dos Reis com eles! “E também a cabeça da República!” gritava o Pacha. “É para já!” Um saltava para os ombros de outro mais alto e, no justo momento da vitória, surgia a temível bigodeira do Ciranda a cuspir palavrões e a atirar com achas de queimar. Pernas para que vos quero, a malta refugiava-se no terreiro da escola, fortim onde se defendiam as maiores gabarolices e onde também o Arturinho Pasta marcava encontros com S. Pedro e S. Paulo, enquanto o Ciranda, por não poder chegar a roupa ao pêlo do garotio, metia as galinhas em casa aos pontapés e à pedrada.
“Ó Ciranda, ó Ciranda, ó Ciranda, Cirandinha” cantarolavam os malandretes.
“Umas bestas!” trovejava, inesperadamente, o Arturinho Pasta. A malta encolhia-se toda, ia galgando muros, não fosse o diabo ser tendeiro, receosa do Arturinho, que já começara a apanhar calhaus do chão.
“Já disse: tu e ele soindes umas grandessíssimas bestas!” estrondeava o louco, apedrejando as estátuas de S. Pedro e de S. Paulo.
“Até nustá c’os copos!” desculpava o Alfredo Tiquetaque.
Pois claro! O Arturinho estava apenas com a sua doidice, com aquela sua cisma, coitadito! Cada doido com a sua mania. Não era o caso do Lila-Pé-Oco? “Ora ri-te, ri-te, home!” Lila olhava para a moeda de cobre na mão do pândego e repuxava as beiças até mostrar os caninos podres. “Q’até pareces um cabalo! Bai-te lá esfregar mai-lo teu riso!” Lila miscrava a moeda, esforçando-se por abrir a boca até às goelas. Mas o frio e aquela dor que não o deixava andar e lhe roía o pé esquerdo a pontos de ter ficado oco... O seu riso animalesco era choro de gente que não chegara a ser. Lila seria outro rei na varanda, mas sem coroa de glória. Encostava-se às grades que deitavam para o rio, procurando sítio onde o sol batesse mais forte; sol de inverno, sol forreta, sol que adormecia aos sol do seu próprio calor, tolhido de frio e de humidade.
Frio e humidade! Eis os recados do Marão que, havia milénios, o Tâmega estava encarregado de levar ao Douro, deixando-os ao sabor da corrente, em Entre-os-Rios. Lila-Pé-Oco precisava, mesmo assim, desse sol tíbio, avarento. Carregava nele as pilhas da sua existência sem sombra de dia e de noite, tal e qual o Marão quando coberto de neve. O Marão e as mortalhas das virgens pagadoras de promessas, descendo à vila no dia de S. Gonçalo, velas e braços e cabeças e pernas e troncos de cera nas mãos, cânticos de louvor nas gargantas trepando duas oitavas acima, para se ouvir bem até mais não a louvação de um santo milagreiro como não havia ouro igual. Pois no S. Gonçalo quem não sabia? até mesmo as coisinhas eram boas; e não havia escândala no despreparo de se entrar na igreja do convento com o bacamarte do santo debaixo do braço.
Só o Carlinhos Padreca via malícia no caso, grudando com a baba o riso espasmódico, obsceno, nauseabundo. “Aboca, Carlinhos, aboca!” provocavam os mais safardanas, levantado o pobre de espírito a apanhar no ar, como se ele fosse cão, as bolinhas do santo.
Todos loucos! “Até o senhor doutor Joaquim!” garantia o Lila-Pé-Oco, rosto triste de perdigueiro meio encoberto pela pala ensebada do boné. Todos loucos, no fundo do tacho! Principalmente os doidos e ele, Pascoaes e os meninos da escola, administradores da fantasia, confidentes da imaginação, irmãos mais novos do Tâmega e do Marão, sobrinhos da boa vida, primos direitos da galderice, amantes da poesia sem letras nem palavras, genitores dos sonhos que procriam e alimentam utopias.
E quando ao cair das trindades a vila só pensava em escalfetas, os meninos aqueciam as mãos roxas de frio na luz das estrelas, e apontavam-nas e contavam-nas a ver quem ficava com mais cravos. E só a lua, madrinha de todos sabença, senhora! parecia compreendê-los.
“Olha ela a rir p’ra gente!” dizia baixinho o Zeca Pedro.
“ Ola que num é nada! É p´ra outra que está ali a boiar no rio” corrigia o Candidinho Oí -ó-ai.
Primeiros a acordarem o dia, sem vergonha de se terem metido na cama com a noite, os meninos, passado o Largo de S. Pedro davam uma corrida, rua da cadeia acima, entrando no terreiro da escola fumegantes, coração desaustinado aos coices no peito. Com a respiração descompassada, sorvida como água em dia de muito calor, os meninos, descansando o queixo no gradeamento quase da altura deles, pareciam récuas com arreatas passadas às argolas, espinhaços aos estremeções e arrepelanços, porque as moscas do inverno, invisíveis mas com ferrão de aço frio, picavam ainda mais do que as varejeiras do estio na barbearia do sr. Luís Piné.
Sem caruma na cabeça, por causa do piolho branco, sem pêlo nem pano nas pernas, joelho a castanholar contra joelho, vergando pelas garulas como se estivessem a sofrer de fazer chichi, os meninos eram pinheiros sangrados pelo taró, lágrimas não choradas escorrendo com dor pelas gretas do cieiro. Então, se um conseguia dizer “o gajo ‘tá todo branco!”, os outros acordavam para o desejo de também verem o Marão coberto de neve.
E, no fundo do tacho que diziam ser a vila, a catraiada da escola sempre era o estrugido que dava o primeiro cheiro e sabor à comida sensaborona da pasmaceira diária. Os outros temperos estavam na serra e no rio, com a sua ponte de três arcos, água passando por baixo, menos naquela vez em que um fidalgo... Quem sabia da história era o Emídio Pisco! Falava numa moca de pregos e de não sei quem que se metera com a amiga do visconde. Tinha sido há muitos, muitos anos! Há um ror deles! - garantia o Emídio Pisco, jurando à ceguinho fosse ele em como tudo era verdade. “Qual galga, ó minha besta! Vale uma apostinha?” E contava mais: correu sangue como pipa aberta; tanto, que o Tâmega apanhara uma borracheira daquela coisa vermelha e, depois, atirou com tudo cá para fora. Parecia borras de vinho. E eram animais, troncos de árvores e até gente! as coisas que o rio tinha engolido em tamanha sangradura. A barriga do rio inchou muito e, de tão cheia, não conseguira passar por debaixo do arco maior; então, o Tâmega tivera de pular por cima da ponte.
Emídio Pisco levava a malta ao Arquinho e mostrava, nos muros e na paredes, os vomitados do rio. Com esta história do camandro, gahava a aposta a dois botões e o direito e chupar duas vezes uma das priscas baris, meio esfareladas e muito acastanhadas, que o Ricardo Branco guardava e defendia à chancada nos bolsos dos calções.
Na vila, só os meninos viviam; o resto existia mumificado. Aos 60 anos, quantos com a mesma cara, a mesma cor de cabelo de quando tinham 30? Eram muitos a ficar assim! Diziam às crianças que, uns, era por causa do frio; outros, porque se conservavam em aguardente como as cerejas. Os meninos ouviam e não comentavam. Para eles, a explicação estava no Largo de S. Gonçalo: também os reis da varanda do convento não mudavam. Todos, certamente os reis e a gente crescida , eram feitos de pedra. Até o Lila-Pé-Oco, os Pastas, o Miki, a Nicó, o Ciranda mais o seu busto da República, o António Padreco e o facão com que atemorizava a ganapada, fazendo-a correr e gritar, à volta do edifício da escola. Não fosse aquele buraco... Tudo e todos loucuras petrificadas, sombras de corpos enterrados nos sarcófagos dos próprios esqueletos, carnes álgidas, almas gélidas, nostálgicas, saudosas do nada. À Varanda dos Reis com eles! “E também a cabeça da República!” gritava o Pacha. “É para já!” Um saltava para os ombros de outro mais alto e, no justo momento da vitória, surgia a temível bigodeira do Ciranda a cuspir palavrões e a atirar com achas de queimar. Pernas para que vos quero, a malta refugiava-se no terreiro da escola, fortim onde se defendiam as maiores gabarolices e onde também o Arturinho Pasta marcava encontros com S. Pedro e S. Paulo, enquanto o Ciranda, por não poder chegar a roupa ao pêlo do garotio, metia as galinhas em casa aos pontapés e à pedrada.
“Ó Ciranda, ó Ciranda, ó Ciranda, Cirandinha” cantarolavam os malandretes.
“Umas bestas!” trovejava, inesperadamente, o Arturinho Pasta. A malta encolhia-se toda, ia galgando muros, não fosse o diabo ser tendeiro, receosa do Arturinho, que já começara a apanhar calhaus do chão.
“Já disse: tu e ele soindes umas grandessíssimas bestas!” estrondeava o louco, apedrejando as estátuas de S. Pedro e de S. Paulo.
“Até nustá c’os copos!” desculpava o Alfredo Tiquetaque.
Pois claro! O Arturinho estava apenas com a sua doidice, com aquela sua cisma, coitadito! Cada doido com a sua mania. Não era o caso do Lila-Pé-Oco? “Ora ri-te, ri-te, home!” Lila olhava para a moeda de cobre na mão do pândego e repuxava as beiças até mostrar os caninos podres. “Q’até pareces um cabalo! Bai-te lá esfregar mai-lo teu riso!” Lila miscrava a moeda, esforçando-se por abrir a boca até às goelas. Mas o frio e aquela dor que não o deixava andar e lhe roía o pé esquerdo a pontos de ter ficado oco... O seu riso animalesco era choro de gente que não chegara a ser. Lila seria outro rei na varanda, mas sem coroa de glória. Encostava-se às grades que deitavam para o rio, procurando sítio onde o sol batesse mais forte; sol de inverno, sol forreta, sol que adormecia aos sol do seu próprio calor, tolhido de frio e de humidade.
Frio e humidade! Eis os recados do Marão que, havia milénios, o Tâmega estava encarregado de levar ao Douro, deixando-os ao sabor da corrente, em Entre-os-Rios. Lila-Pé-Oco precisava, mesmo assim, desse sol tíbio, avarento. Carregava nele as pilhas da sua existência sem sombra de dia e de noite, tal e qual o Marão quando coberto de neve. O Marão e as mortalhas das virgens pagadoras de promessas, descendo à vila no dia de S. Gonçalo, velas e braços e cabeças e pernas e troncos de cera nas mãos, cânticos de louvor nas gargantas trepando duas oitavas acima, para se ouvir bem até mais não a louvação de um santo milagreiro como não havia ouro igual. Pois no S. Gonçalo quem não sabia? até mesmo as coisinhas eram boas; e não havia escândala no despreparo de se entrar na igreja do convento com o bacamarte do santo debaixo do braço.
Só o Carlinhos Padreca via malícia no caso, grudando com a baba o riso espasmódico, obsceno, nauseabundo. “Aboca, Carlinhos, aboca!” provocavam os mais safardanas, levantado o pobre de espírito a apanhar no ar, como se ele fosse cão, as bolinhas do santo.
Todos loucos! “Até o senhor doutor Joaquim!” garantia o Lila-Pé-Oco, rosto triste de perdigueiro meio encoberto pela pala ensebada do boné. Todos loucos, no fundo do tacho! Principalmente os doidos e ele, Pascoaes e os meninos da escola, administradores da fantasia, confidentes da imaginação, irmãos mais novos do Tâmega e do Marão, sobrinhos da boa vida, primos direitos da galderice, amantes da poesia sem letras nem palavras, genitores dos sonhos que procriam e alimentam utopias.
E quando ao cair das trindades a vila só pensava em escalfetas, os meninos aqueciam as mãos roxas de frio na luz das estrelas, e apontavam-nas e contavam-nas a ver quem ficava com mais cravos. E só a lua, madrinha de todos sabença, senhora! parecia compreendê-los.
“Olha ela a rir p’ra gente!” dizia baixinho o Zeca Pedro.
“ Ola que num é nada! É p´ra outra que está ali a boiar no rio” corrigia o Candidinho Oí -ó-ai.
Maravilhada, a malta arregalava os olhos com aquele milagre de haver duas luas. Então, coraçõeszinhos aos pulos, juravam que por nada deste mundo viriam a ser grandes.
“Juras?”
“Juro!”
“Juras?”
“Juro!”

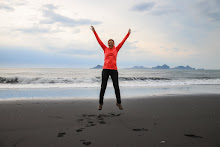











Sem comentários:
Enviar um comentário